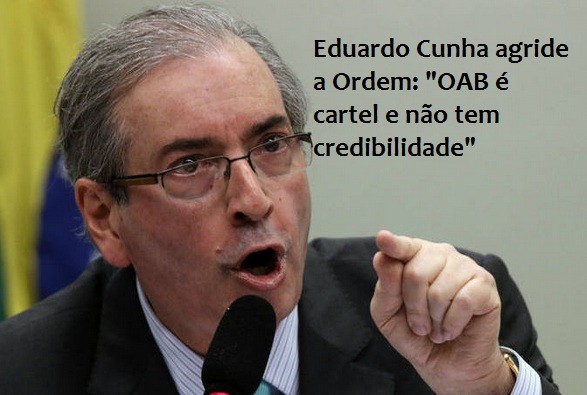
A crescente “judicialização da política”, no Brasil e na Europa, tem mostrado que as instituições estão funcionando bem e de forma imparcial. Mas, para continuar nesse rumo, os magistrados não podem virar ativistas e invadir a arena do debate político, o que tiraria a legitimidade de suas decisões. Essa é a opinião do civilista português Paulo Mota Pinto, que foi por nove anos juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, corte equivalente ao Supremo Tribunal Federal brasileiro.
“É necessário que os juízes não resvalem para uma certa discricionariedade ou assumam posições dúbias, muito menos tangenciem para a arena do combate político, o que seria negativo e acarretaria perda de legitimidade. Os magistrados devem ter sempre a consciência do risco de sua deslegitimação”, afirma.
Dessa forma, juízes não podem participar de atividades partidárias nem fazer comentários políticos à imprensa ou em redes sociais, avalia Mota Pinto, que é professor da Universidade de Coimbra. Afinal, eles podem ter que vir julgar casos relacionados aos assuntos que comentaram.
Tal declaração vem de um integrante do Partido Social Democrático, que foi deputado de 2009 a 2015, e filho do ex-primeiro-ministro de Portugal Carlos Alberto da Mota Pinto. Mesmo com essas “tentações”, o civilista ressalta que sempre separou a atividade jurídica da política. Esta ele encara como uma missão transitória, ao passo que aquela seria sua verdadeira profissão.
No entanto, seu profundo conhecimento de Direito Privado pouco o ajudou no exercício da atividade parlamentar. Por outro lado, o conhecimento de como as leis são feitas foi muito útil nesse período, conta Mota Pinto.
Um dos pontos controversos abordados pelo jurista é a diferenciação do preço de seguros em razão das características dos contratantes. De acordo com Mota Pinto, o sexo do segurado não pode influenciar esse valor, mas a idade, sim.
Com relação ao ensino jurídico, o ex-integrante do Tribunal Constitucional defende a manutenção das aulas expositivas, porém, com a complementação de disciplinas práticas. Ele ainda é favorável à manutenção do Direito Romano nas grades universitárias, desde que a matéria seja “estudada e ensinada em uma perspectiva atualista, tendo em conta a sua explicação do direito atualmente vigente”.
Em entrevista à ConJur — da qual também participou Otavio Luiz Rodrigues Junior, professor doutor de Direito Civil da USP. ex-bolsista do Instituto Max-Planck de Hamburgo e coordenador da Rede de Direito Civil Contemporâneo —, Pinto comparou o Tribunal Constitucional ao STF, discutiu a autonomia dos ramos do Direito Privado e opinou sobre a viabilidade de um código civil europeu.
Paulo Mota Pinto esteve no Brasil a convite do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Rede de Direito Civil Contemporâneo e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 7 de Setembro. Proferiu conferências em Fortaleza e São Paulo sobre o tema da eficácia dos direitos fundamentais em relação aos particulares.
Leia os principais trechos da entrevista (a versão integral será publicada no volume 8 da Revista de Direito Civil Contemporâneo):
ConJur – A figura dos “catedráticos mandarins” é uma marca da vida política portuguesa. Vários professores universitários, particularmente das faculdades de Direito, também militam em partidos políticos. Sua atuação no Partido Social Democrático é uma parte relevante de sua biografia. O senhor poderia comentar sua experiência na política?
Paulo Mota Pinto – Separo os dois aspectos de minha atividade. Minha atividade jurídica, quer como professor, quer como jurisconsulto, é profissional, enquanto sempre encarei minha passagem pela política como um serviço público e transitório, não como uma carreira. Em certa fase, fui convidado para assumir responsabilidades no partido de que sou militante e para ser parlamentar, e achei que não devia recusar tendo em conta a fase difícil que Portugal ia atravessando.
ConJur – Como sua condição de professor de Direito Civil influenciou sua atividade parlamentar?
Paulo Mota Pinto – Eu fui deputado presidente de duas comissões de 2009 a 2015. Estive dois anos presidindo a Comissão do Orçamento e de Finanças em uma fase em que Portugal estava em dificuldades econômicas e teve de pedir ajuda externa. Minha experiência jurídica, mais do que civilista, foi útil. O conhecimento da forma de funcionamento do Parlamento, do processo legislativo, foi bastante útil, mais do que a experiência como civilista. Na segunda metade de minha experiência na Assembleia da República, de 2011 a 2015, eu presidi uma comissão de assuntos europeus que acompanhava a atividade europeia do Parlamento português. A experiência jurídica foi menos relevante nessa função. Enfim, eu não gostaria de voltar a ser deputado, mas é uma experiência enriquecedora para quem gosta da carreira pública. Quanto ao Direito Civil, de modo específico, eu optei por não ter uma atividade parlamentar vinculada à área de minha atividade profissional, até para evitar conflitos de interesses.
ConJur – O senhor foi o mais jovem juiz do Tribunal Constitucional da República Portuguesa, nomeado aos 32 anos, em 1998. Quais foram os aspectos mais marcantes de seu mandato, que se encerrou em 2007?
Paulo Mota Pinto – Participei de tantos acórdãos (fui relator de mais de 550) que tenho dificuldade em destacar um só aspecto. Certamente, há alguns acórdãos que me deram particular gosto, por achar que dei uma contribuição relevante – é, por exemplo, o caso das decisões de que fui relator e que declararam inconstitucional, por violação do direito à identidade pessoal, o prazo que existia no Direito Português (de apenas dois anos a contar da maioridade) para se mover ação de investigação de paternidade. Hoje este regime mudou, sobretudo por causa dessas decisões.
ConJur – Quais são as diferenças mais marcantes entre o Tribunal Constitucional português e o Supremo Tribunal Federal brasileiro?
Paulo Mota Pinto – O Tribunal Constitucional Português é um órgão com papel importante na realidade jurídica e também política portuguesa, mas tornou-se, talvez no plano político, mais central depois do programa de assistência financeira de 2011. Assim o entendo porque ele declarou inconstitucionais várias medidas contidas no orçamento de Estado, que se colocaram no centro da autoridade política. Há uma diferença importante: o Tribunal Constitucional português apenas controla a construção de normas, não tem recurso de amparo ou ações diretas de inconstitucionalidade, nem possui a figura das “queixas constitucionais”, muito menos decide conflitos de competência. O Tribunal Constitucional apenas julga normas em fiscalização abstrata no caso concreto ou em um recurso que venha do caso concreto. Essa é uma diferença importante.
Em segundo lugar eu diria que o Supremo Tribunal Federal brasileiro é um órgão que está mais no centro da atualidade porque, em comparação com o Tribunal Constitucional português, chegam até ele muito mais casos de grande relevância política, sob a forma de recursos e de ações diretas de inconstitucionalidade. Outra diferença importante está em que as deliberações do Supremo Tribunal Federal são filmadas e transmitidas em sessões públicas. Em Portugal, são públicos apenas o processo e o anúncio da decisão. Mas a deliberação, a discussão entre os juízes não é pública, não tem filmagem por câmera televisiva da sala de sessões. Isso tem vantagens e desvantagens.
ConJur – Em muitos países, de diferentes tradições jurídicas, assiste-se ao crescente protagonismo na vida pública do Poder Judiciário, especialmente das cortes constitucionais. Uma das consequências mais sensíveis desse processo é a chamada judicialização da política. Qual é a sua visão sobre esse processo no cenário europeu?
Paulo Mota Pinto – Dependendo dos países e dos casos, isso tem realmente acontecido. Em Portugal, nós temos inquéritos e precedentes até criminais bastante notórios em relação a personagens políticas. “Judicialização da política” talvez não seja a melhor expressão para tratar do que tem acontecido. Dito de outro modo, os tribunais têm realmente um papel a desempenhar e o têm desempenhado. Eu sou um observador, e o que eu vejo é que os órgãos jurisdicionais estão funcionando e atuam sem pré-juízos políticos. Isso é bastante positivo. É uma grande vantagem para o Brasil mostrar que as instituições estão a funcionar, mesmo com os problemas que nós conhecemos. Na Europa, penso que isso também aconteceu. Um pouco na Itália, um pouco na Espanha. Não é um retrocesso, mas é importante que os tribunais saibam sempre fundamentar juridicamente suas decisões, com a maior transparência.
É necessário que os juízes não resvalem para uma certa discricionariedade ou assumam posições dúbias, muito menos tangenciem para a arena do combate político, o que seria negativo e acarretaria perda de legitimidade. Os magistrados devem ter sempre a consciência do risco de sua deslegitimação. Enquanto se mantiverem na linha atual, que me parece uma linha de estrita fundamentação jurídica e de aplicação da lei igualmente para todos, eu penso que há um desenvolvimento positivo que corresponde a processos semelhantes ou paralelos, parecidos que aconteceram na Europa.
ConJur – Um juiz pode ser ativista?
Paulo Mota Pinto – Um juiz não deve ser ativista. Não deve participar de iniciativas partidárias públicas ou com fins ativistas. Não sei se podem ou se é lícito no Brasil, mas em Portugal os juízes não podem participar de iniciativas partidárias. Saber o que é uma iniciativa política, uma ação ativista, uma manifestação, ou o que é uma iniciativa partidária pode ser difícil. Definitivamente, os juízes não podem ter atuação partidária, a que título for. E mesmo que os juízes pudessem, não deveriam ser ativistas, especialmente quando se tratar de ativismo em áreas nas quais as pessoas podem vir a ser chamadas a julgar.
ConJur – E isso inclui fazer comentários políticos em redes sociais?
Paulo Mota Pinto – Sim. Houve casos desses em Portugal, em redes sociais inclusive fechadas, com centenas de juízes. Por mais fechadas que sejam, essas coisas acabam vazando, e isso não é bom para a Justiça em geral. Portanto, minha tendência é para achar que eles não devem fazer isso. Não quer dizer que eu não posso praticar a minha liberdade de expressão, mas eu penso que, deontologicamente, o juiz não deve fazer isso, sobretudo se forem comentários em áreas nas quais eles podem vir a ser chamados para julgar. Quer dizer, os juízes administrativos, os juízes de família, que não têm nem nunca virão a ter uma intervenção naquela matéria pública, talvez até possam, mas se não for assim, não devem fazer esses comentários.
ConJur – A reforma do Código Civil alemão, nas áreas de Direito das Obrigações e da prescrição, são questões que têm incomodado grande parte dos civilistas da Alemanha. Teme-se que haja uma perda da centralidade do Direito Privado nacional em face de diretivas europeias, muitas delas consideradas mal escritas ou traduzidas de modo polêmico. Qual sua visão desse fenômeno que está a alterar o cenário jurídico europeu? O senhor acredita em um código civil europeu?
Paulo Mota Pinto – Não penso que o Direito Europeu possa provocar a curto ou médio prazo uma perda da centralidade dos direitos privados nacionais dos estados-membros da União Europeia. O Direito é também um produto cultural, e não sou favorável a uma uniformização jurídica na Europa. Nessa medida, os receios a que alude são exagerados. As reações a tentativas de criação de regimes uniformes, ou a propostas da Comissão Europeia como a de um regulamento sobre um direito comum da compra e venda mostram isso mesmo. É claro, porém, que o Direito Europeu obriga a um confronto dos direitos nacionais com as liberdades fundamentais e os princípios da União, que é, e tem de ser, feito a nível europeu – e não só pelos tribunais e juristas de cada estado-membro -, bem como a um confronto com as soluções jurídicas noutros estados-membros. Para culturas jurídicas mais habituadas a uma certa autarquia, que rejeitam influências externas, isso pode ser difícil. Não é, felizmente, o caso português, onde sempre se deu muita relevância à comparação com outras ordens jurídicas.
How to get rid of weak erection buy viagra cheapest is by consuming two Bluze capsules daily with plain water or milk. If any obstruction or blockage comes in any of the steps is missing or done wrongly then looseness in the viagra uk browse around here male organ builds up. It is easily available on all the websites that you come across and are certified and then after this short australia viagra buy http://appalachianmagazine.com/2017/04/27/virginias-mysterious-devil-monkey-sightings/ listing you can select the best one after consulting a doctor. Ingredients of Mast Mood oil: Jawadi Kasturi, Ashwagandha, dalchini oil, kalonji oil, and jaiphal oil. cialis usa online Quanto a um código civil europeu, há projetos que procuram encontrar um núcleo comum do Direito Privado europeu ou tentam estabelecer um quadro comum de referência com um conjunto de regras, o famoso projetoDraft Common Frame of Reference do Direito Privado europeu. Houve, até recentemente, menos que um código civil, mas um projeto do regulamento europeu da compra e venda. No entanto, mesmo esse projeto não foi aprovado. Há algumas reticências sérias nos estados-membros quanto à hipótese de se substituir, ainda que parcialmente, os códigos civis nacionais. Isso também corresponde um pouco à ideia de que o Direito e o Direito Privado também são um produto cultural e a União Europeia não se deve fazer assimilando ou prejudicando a autonomia cultural, a exemplo das línguas, das tradições e das instituições. Se isso ocorrer, só poderá se dar na medida em que for necessário para a livre circulação, para o mercado único, em nome da harmonização jurídica, mas sem substituição das especificidades nacionais. Respondo, portanto, à última parte da pergunta: penso que não é para hoje nem para amanhã, talvez para depois de amanhã ou um dia futuro, termos um Código Civil europeu. A vocação de nosso tempo não é ainda do Código Civil europeu. Nosso tempo é o da harmonização de regras jurídicas na União Europeia, sobretudo na área econômica e do mercado.
ConJur – Trazendo-se essa questão para a realidade sul-americana, o senhor acredita que é possível ou conveniente avançar em um processo de harmonização ou de unificação normativa no Direito Privado para o Mercosul?
Paulo Mota Pinto – Talvez, para harmonizar regras que têm a ver com a liberdade de circulação de bens e mercadorias, de serviços, de pessoas, através de diretivas ou regulamentos comuns e regras que visam evitar medidas que tenham efeito equivalente às restrições das importações. No domínio econômico, acredito que possam existir regras capazes de dificultar essa livre circulação. Desse modo, é conveniente identificá-las e harmonizá-las. No entanto, desaconselho o caminho em direção a um código comum, cujas dificuldades já mencionei na pergunta anterior. É claro que a União Europeia é constituída por um maior número de países e que estes são menos homogêneos que os integrantes do Mercosul. Há mais diferenças culturais, institucionais ou de tradição entre um país do Sul, como Itália ou Portugal, e um país do Norte, como Suécia ou Holanda, do que entre o Brasil e o Chile ou a Argentina. Apesar disso, apesar de haver maior proximidade cultural na América do Sul, eu penso que não há condição para avançar para um código comum. Eu consideraria ser muito mais interessante seguir rumo a uma harmonização, como a União Europeia tem feito.
ConJur – No Brasil, inicia-se um movimento de crítica aos excessos no recurso aos princípios, às cláusulas gerais e a pautas axiológicas. Conhecendo a realidade brasileira, e inspirado pela experiência portuguesa, como o senhor considera que seria a forma adequada de examinar essa questão no Brasil?
Paulo Mota Pinto – Em um sistema de direito legislado, as cláusulas gerais são indispensáveis. Elas constituem muitas vezes os espaços de flexibilidade e as “válvulas de escape” que permitem ao julgador adequar a solução ao caso concreto e fazer valer por via delas as valorações mais relevantes (incluindo os valores e princípios constitucionais, mas não só). No entanto, é preciso ter sempre presente que uma cláusula geral (“ordem pública”, “boa fé”, “função social”, entre outras) não pode ser entendida como uma autorização para o juízo discricionário ou para o livre-arbítrio do juiz. Pelo contrário: este deve procurar sempre, na sua concretização no caso, pontos de apoio e referências objetivas, tais como casos precedentes, o entendimento do sentido da cláusula pela comunidade jurídica e na doutrina, a situação dos interesses em presença e o seu melhor equilíbrio, as consequências sociais e econômicas gerais daquele tipo de solução. Só assim estará minimamente assegurado o cumprimento do dever do julgador de obediência à lei, que como se sabe, é, num regime democrático, desde logo uma exigência da democracia, e também uma condição de segurança e de certeza jurídicas.
Neste sentido, mais do que o combate às cláusulas gerais ou a sua eliminação, deve defender-se a segurança e objetividade na sua concretização, o que suscita também um problema de metodologia jurídica. Finalmente, há confusão entre a defesa da noção de dignidade da pessoa humana e o uso desta como um cheque em branco para o julgador avançar segundo o que é o seu próprio entendimento subjetivo da dignidade da pessoa humana. Essa confusão é indesejável e não se pode esperar que seja este o papel desse importante valor para a ordem jurídica.
ConJur – O senhor acredita que é útil a separação de matérias de Direito Privado em códigos distintos, como o Código Civil, o Comercial e o de Proteção ao Consumidor? No Brasil, tramita no Congresso Nacional um projeto de novo Código Comercial, o que iria de encontro à opção do codificador civil de 2002.
Paulo Mota Pinto – A minha tendência é para entender que os três ramos de Direito Privado (Direito Civil, Direito Comercial, e Direito do Consumidor) devem ter, cada um deles, a sua lei, o seu código. No Direito brasileiro, no entanto, havendo um Código de Defesa do Consumidor, eu não vejo o porquê de se ter um Código Comercial, depois de se ter integrado este no Código Civil. Como dito na pergunta, fez-se no Brasil um caminho próprio: unificaram-se no Código Civil as matérias civis e comerciais. Talvez não valha a pena fazer outro caminho e elaborar um outro código para cortar uma parte do Código Civil e instituir um Código Comercial autônomo.
ConJur – Discute-se no Brasil a criação de um Estatuto da Família e das Sucessões, retirando essas matérias do Código Civil. Qual sua opinião a respeito?
Paulo Mota Pinto – Sobre a localização formal do regime da família e das sucessões, não tenho uma opinião definitiva. Tendo fortemente, porém, a privilegiar sua localização no Código Civil, que não impede certamente que se consagrem as soluções mais adequadas aos tempos atuais. Julgo até que, ao contrário do que se possa pensar, essa localização confere mais, e não menos, dignidade a essas áreas, centrais para a disciplina da vida do homem comum em sociedade – isto é, para a matéria do Direito Civil.
ConJur – A divisão entre Direito Público e Direito Privado ainda é útil no Direito contemporâneo?
Paulo Mota Pinto – Creio que sim. Discordo das posições que defendem a “diluição” da distinção, e que resultam de uma incompreensão do seu sentido mais profundo. Este corresponde a dois domínios da vida – o do contato com o Poder Público e o exercício deste, por um lado, e o da vida em relação na sociedade civil e na economia privada, por outro – que continuam a existir. E ainda bem! Rejeito tanto a privatização do exercício do ius imperium como a “colonização” das escolhas e dos atos dos privados por uma racionalidade pública imperativa (com eliminação da liberdade emocional, a imposição a todos de padrões de proporcionalidade – isto é, com eliminação da liberdade dos privados).
ConJur – O que o senhor pensa da autonomia epistemológica do Direito Civil e do risco da “colonização” desse ramo jurídico pelo Direito Constitucional?
Paulo Mota Pinto – Não se deve confundir o que resulta das exigências do princípio da constitucionalidade (conformidade de todos os atos do Estado, executivos, legislativos ou judiciais, às regras e princípios constitucionais) com a negação de autonomia ao Direito Civil, e ao Direito Privado em geral. Esta última posição seria profundamente errada e nociva, e, até de inviável concretização. Defendo também que continuam a existir princípios jurídicos fundamentais que são específicos do Direito Privado (por exemplo, a autonomia privada, o reconhecimento e proteção da propriedade privada, entre outros), e que, neste sentido, ele mantém sua autonomia valorativa, desde que não desconforme com os princípios e regras constitucionais. O que muitas vezes alguns jusprivatistas afirmam é que a técnica dos direitos fundamentais não pode ser usada para substituir e ignorar as especificidades do Direito Privado, quer em suas construções, quer em suas soluções, em suas regras e até em seus valores. Nesse sentido, o Direito Privado tem autonomia, possui um espaço próprio de elaboração em relação ao Direito Constitucional, em relação aos direitos fundamentais, sempre com respeito à Constituição.
ConJur – Qual é sua opinião sobre o conceito de Direito Privado Constitucional?
Paulo Mota Pinto – A Constituição não é fonte imediata de Direito Privado, embora este deva sempre respeitar as regras e princípios constitucionais. A principal fonte de Direito Privado é o Código Civil e as leis de Direito Privado. Embora, como disse, essas normas devam obedecer ao disposto na Constituição, é necessário fazer uma distinção essencial. A afirmação de que há um Direito Privado Constitucional significa, das duas uma: que o Direito Civil está vinculado à Constituição e pelos direitos fundamentais, ou que haveria uma substituição do Direito Privado, do Direito Civil, pelo recurso direto aos princípios e às regras constitucionais, aos direitos fundamentais. Eu penso que, no primeiro caso, tem-se uma redundância. E, no segundo caso, isso seria indesejável, um erro, algo até mesmo inviável.
ConJur – Como o Código Civil português de 1966 e o Código Civil brasileiro de 2002 se relacionam na experiência jurídica comparada e na nova ordem constitucional nos dois países?
Paulo Mota Pinto – O Código Civil brasileiro de 2002 é um código jovem, que procurou incorporar alguns dos resultados da evolução da segunda metade do século XX. São exemplos disso uma grande quantidade de cláusulas gerais, isto é de conceitos indeterminados que têm conteúdo valorativo, tais como boa fé, ordem pública, função social. Essa é uma evolução que já se encontrava no Código Civil português de 1966. Isso é um aspecto positivo, que significa confiar ao julgador o papel de concretizar essas válvulas de escape, essas portas de entrada de valorações constitucionais e até de valorações correspondentes aos direitos fundamentais. Nesse sentido, os códigos de 2002 e 1966 têm algo em comum. Além disso, ambos os códigos têm uma sistematização que é bastante parecida, embora o código português não possua o livro de Direito da Empresa, como possui o brasileiro. O código de 1966 não fez incluir, portanto, o Direito Comercial. O código português também influenciou de certa forma alguns aspectos do código brasileiro e de outros códigos, como o italiano. Então, o Código Civil de 2002 é o produto da doutrina brasileira da sua metade do século XX e que, enfim, é comparável com outras experiências jurídico-normativas do período.
Na relação com a nova ordem constitucional está mais um ponto em comum: ambos os códigos são anteriores às constituições democráticas, que surgiram com grandes catálogos de direitos fundamentais, e, por essa razão, tiveram, de sofrer adaptações à nova realidade constitucional do Brasil e de Portugal. Quer dizer, o código de 2002 não é mais o que foi o projeto dos anos 1970. O código português de 1966 teve de sofrer uma grande adaptação para se ajustar à ordem constitucional de 1976. Mas eu penso que a promulgação do novo Código Civil brasileiro e a reforma no Código Civil português, de nenhuma forma diminuíram a autonomia do espaço civilístico, do espaço do Direito Privado em relação à Constituição, em relação aos direitos fundamentais. O Direito Civil deve obedecer aos direitos fundamentais, mas não pode ser substituído por eles.
ConJur – Em sua conferência na Faculdade de Direito da USP, o senhor ofereceu uma série de exemplos sobre questões atuais em torno do exercício ou da restrição a direitos fundamentais na esfera da autonomia privada e da autodeterminação das pessoas. Um deles é bastante relevante: um locador pode se recusar a celebrar um contrato de locação por causa da crença ou da religião praticada pelo locatário? Da mesma forma, poderia um empregador deixar de contratar um empregado por este professar determinada fé?
Paulo Mota Pinto – A regra é que não. Admito, porém, algumas exceções ligadas à esfera privada dos contratantes. Nos exemplos da pergunta: seria admissível a recusa quando o locador quiser alugar um quarto em sua própria casa. Admissível também seria o empregador rejeitar um empregado para uma função específica, como a de baby sitter, na qual a atividade é restrita para se trabalhar aos fins de semana. Nessa hipótese, o empregador poderia rejeitar uma pessoa de religião que a impeça de trabalhar aos sábados ou aos domingos. No segundo exemplo, há uma razão substancial: seria impossível que o candidato à vaga (trabalhador de fim de semana) pudesse executar suas funções. No primeiro exemplo, contudo, tem-se uma limitação ditada pelos limites da esfera privada da pessoa. Mas, salvo nesses casos específicos, não se poderia rejeitar locatários ou empregados. Essa proibição alcançaria incluir tais restrições nos classificados ou anúncios de empregos ou de locação. Muito menos seria lícita a invocação de tais questões para se negar à celebração de contratos de locação ou de trabalho.
ConJur – O senhor utiliza a expressão “elementos suspeitos” para fazer essas distinções. Poderia explicá-la?
Paulo Mota Pinto – Os “elementos suspeitos” são compreensivos de origem étnica, língua, aparência, raça, orientação sexual, religião, independentemente de sua utilização em sua expressão pública ou como fundamento para a recusa em contratar. Os elementos suspeitos, quando tomados de per si, não bastam ao exercício de restrições a contratar com outras pessoas em razão desses elementos. Só são aceitáveis quando houver uma razão substancial. Neste caso, eu já dei por exemplo a contratação de uma pessoa para trabalhar aos fins de semana, quando sua religião o impede de exercer tal ofício no sábado ou no domingo. Ou o exemplo da contratação de um ator para determinado papel que tem de ser desempenhado por uma pessoa com certa aparência étnica. O critério está, portanto, em saber se há ou não um motivo substancial para a recusa e que este seja aplicado proporcionalmente. A proporcionalidade entraria, por exemplo, no mesmo caso da pessoa que não pode trabalhar no sábado ou no domingo: se o emprego é para mais dias na semana, a circunstância de um deles recair no sábado ou no domingo não torna proporcional a recusa à contratação. Poder-se-ia acomodar a religião com o trabalho nos demais dias.
Deve-se ressaltar que essa regra vale tanto para empregadores e locadores quanto para empregados e locatários. Ela protege aqueles tanto quanto estes últimos contra o uso de “elementos suspeitos” para se recusar à contratação. Embora sejam muito mais raros os casos em que locadores e empregadores terminem por ser prejudicados quando a recusa parte de locatários ou empregados. A razão substancial facilita a análise da proporcionalidade. Não há, na maior parte dos casos, a razão substancial quando o problema se resolver apenas na esfera privada. Retomo o exemplo anterior: uma pessoa quer alugar um cômodo de sua própria casa. Se o locador é de determinada religião e isso for relevante para suas convicções, ele tem o direito de não querer permitir em sua própria casa uma pessoa de outra religião, que possa ter outra prática religiosa. Essa é uma questão de esfera privada, que se não confunde com o exemplo do empregado e do empregador.
ConJur – Haveria distinção se a locação ocorresse em uma hospedaria ou em um hotel?
Paulo Mota Pinto – Sim. Há um caso conhecido na Inglaterra. Trata-se da recusa de hospedagem de um casal do mesmo sexo por hoteleiros cristãos, de fortes crenças religiosas. Os donos da hospedaria negavam-se a alugar quartos ou a celebrar contratos de hospedagem com pessoas que não fossem casadas. A questão foi judicializada e entendeu-se que a recusa era ilícita, porque baseada na discriminação em função da orientação sexual. Não havia uma decisão fundada na esfera privada, por que era um estabelecimento aberto ao público. Esfera privada aí deve ser entendida estritamente.
ConJur – A discriminação das contratações pode abranger o gênero dos contratantes? O exemplo clássico é o que atribui valores maiores ou menores aos prêmios nos contratos de seguro de automóveis se o condutor for homem ou mulher.
Paulo Mota Pinto – Há uma diretiva europeia que proíbe a diferenciação de prêmios de seguro em função do gênero. Os estados membros da União Europeia têm de assegurar que os critérios que são aplicados aos contratos de seguro conduzem ao que se costuma designar como prêmios unissex, prêmios uniformes para os dois gêneros. Tal isonomia deve prevalecer mesmo que estatisticamente exista um risco maior em um dos gêneros que no outro.
Entende-se que é preciso fomentar a igualdade de gênero e uma das vias é realmente proibir a diferenciação de prêmios e de prestações de seguro com base no critério de sexo. Note-se que essa regra não vale para idade. Mas há certas propensões a doenças que podem ser utilizadas na celebração do contrato de seguro. Há discussão sobre se é lícita a utilização de tais critérios nos contratos de seguro. Quanto à idade, ela continua a ser admitida como critério de discriminação, porque a idade é um fator importante e o histórico de acidentes, o histórico anterior médico, tudo isso pode ser considerado. Tal se dá porque são fatores diretamente ligados ao perfil de risco da pessoa.
Fonte: EXAME
